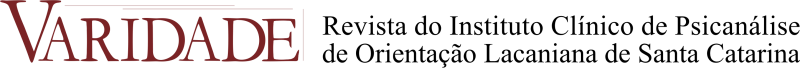O Rouxinol de Lacan e a conversação dos analistas1
Ram Mandil2

Fred Stapazzoli, sem título, 2022. [Estudo de monotipia pictórica]
Minha ideia é trazer uma proposta de trabalho envolvendo a questão apresentada por Jacques-Alain Miller no texto O rouxinol de Lacan3, texto esse que se insere numa sequência de Conversações que aconteceram no âmbito da ECF no final dos anos 1990 e que nós temos o registro na forma de publicações. Esta conferência, apresentada por Miller no Instituto Clínico de Buenos Aires (ICBA), pode ser considerada como uma conclusão a respeito do que foi elaborado nessas Conversações e que deu origem à categoria das psicoses ordinárias.
A conferência de Miller inicia com uma dupla consideração sobre o ensino: por um lado, a transmissão do que já está acumulado em termos da experiência e da própria teoria psicanalítica e, por outro, a vertente da investigação. Ou seja, a procura de algo que pudesse ressignificar inclusive aquilo que já está acumulado.
Sabemos que o título da conferência de Miller é uma referência a um ensaio de Jorge Luis Borges, intitulado O rouxinol de Keats4, construído em torno de uma reflexão sobre uma ode – Ode a um rouxinol5 – do poeta inglês John Keats. A sequência Ode a um rouxinol, de John Keats, O rouxinol de Keats, de Borges, e Miller propondo O rouxinol de Lacan nos permite inferir que, de alguma maneira, o rouxinol de Keats faz falar e com ele chegamos até aqui. Ou seja, uma tradição inaugurada pelo rouxinol de Keats, por um canto que o poeta teria escutado e que aparece fixado nessa ode que ele escreveu por volta de 1814.
Fragmentos de Ode a um rouxinol foram, para nossa sorte, traduzidos para o português por Augusto de Campos. A sétima estrofe é o ponto de partida para o texto de Borges, e referência para a conferência de Miller, com ênfase na discussão sobre a relação entre o indivíduo e as classes, uma questão que nos interessa em relação à discussão sobre o diagnóstico. Tradicionalmente um diagnóstico procura associar aquilo que o indivíduo apresenta a uma classe nosográfica, por exemplo. Quando dizemos psicose, neurose, à primeira vista, estamos vinculando aquilo que o analisante apresenta a uma "classe", que seria a da neurose, a da psicose ou a outras.
Voltemos ao poema. No período de sua redação, Keats é um poeta de 23 anos de idade, residindo em Hampstead, na época subúrbio de Londres, e que curiosamente é o bairro onde Freud foi se instalar posteriormente quando se exilou da Áustria. Através do poema, sabemos que o poeta escuta o canto de um rouxinol que ele em momento algum procura avistar. Todo o poema é construído a partir desse canto, em torno do qual vai tecendo considerações sobre a mortalidade e a imortalidade. E, ao final da estrofe, o poeta assim se dirige ao rouxinol, na tradução de Augusto de Campos:
VII
Tu não nasceste para a morte, ave imortal
Não te pisaram pés de ávidas gerações
A voz que ouço cantar neste momento é igual
À que outrora encantou príncipes e aldeões:
Talvez a mesma voz com que foi consolado
O coração de Rute, quando, em meio ao pranto,
Ela colhia em terra alheia o alheio trigo;
Quem sabe o mesmo canto
Que abriu janelas encantadas ao perigo
Dos mares maus, em longes solos, desolado.
Esse verso, “tu não nasceste para a morte, ave imortal”, captura a atenção de Borges para, a partir daí, iniciar uma reflexão sobre uma possível confusão provocada pelo poeta e assinalada pelos críticos deste poema – sobretudo por parte dos conterrâneos de Keats – quando ele sugere que esse canto seria o mesmo daquele rouxinol que aparece nos poemas de Ovídio, nos poemas e nas peças de Shakespeare, ou mesmo na passagem bíblica referida a Rute ao ouvir o canto de um rouxinol em meio à colheita do trigo. É o mesmo rouxinol? Ou ainda, é o mesmo canto de um rouxinol?
Borges destaca o que a tradição crítica inglesa assinalou como um erro de lógica no poema. Naquele momento, diziam, John Keats poderia estar confundindo o indivíduo com a espécie. Na verdade, quando ele está se referindo ao canto do rouxinol, não se deve entender como se estivesse dizendo respeito a um rouxinol isoladamente, mas à espécie à qual pertence o rouxinol. Desse modo, considerando que a espécie é imortal e o indivíduo é mortal, no verso “Tu não nasceste para a morte, ave imortal”, é como se o poeta estivesse se referindo à espécie, e não a um rouxinol tomado como indivíduo.
No livro Outras Inquisições, Borges irá discordar dessa leitura, e propõe que se considere esse rouxinol como o mesmo rouxinol que atravessa épocas, e não como metáfora da espécie. Enfim, não pretendo entrar aqui nos detalhes dessa discussão, mas é interessante ver como Miller toma essa questão para introduzir a discussão do que significa, do ponto de vista do discurso analítico, as relações entre o indivíduo e a classe, ou entre o particular e o universal. Ou ainda, ao que se pode considerar como sendo da ordem do singular, como algo que desloca ou que não necessariamente se inscreve nessa dinâmica do particular-universal.
De que ordem são as categorias da psicanálise? Por exemplo, quando utilizamos a categoria psicose, que movimento estamos fazendo? Quando atribuímos a um caso o diagnóstico de psicose, que movimento estamos fazendo diante do que o indivíduo apresenta e qual a sua relação com a “classe” das psicoses, por exemplo?
Estou usando aqui o termo categoria, porque é o termo que Miller utiliza nas discussões que faz sobre o tema das psicoses ordinárias. Considerando que a referência nosográfica da psiquiatria contemporânea é o DSM-5, não podemos ignorar que o próprio Manual propõe uma discussão a respeito do método de acionamento das categorias clínicas, ao introduzir e mesmo acolher a possibilidade de utilizar a noção de “dimensão” como contraponto às categorias.
Para dizer de modo mais direto, quando utilizamos a noção de "categoria" é porque nos referimos à presença ou ausência de algo. Como quando vamos acender a luz. A luz ou está acesa ou está apagada. A gravidez, por exemplo, é utilizada como exemplo de categoria. A pessoa ou está grávida ou não está grávida. Não existe gradação. Na nossa clínica se pode até admitir que exista, mas do ponto de vista da medicina é sim ou não. No entanto, em relação ao botão que permite acender ou apagar a luz, existe a opção do dimmer. A luz pode estar acesa, mas por meio desse dispositivo você vai apagando gradativamente. Assim, entre a luz apagada e a luz acesa existe uma enorme gama de possibilidades. Isso é o que se considera ser da ordem da dimensão, diferentemente da divisão entre presença/ausência das categorias.
Podemos dizer que o espírito do DSM é o de um artificialismo levado ao extremo, ao reconhecer que as categorias, incluindo as classes, são semblantes, portanto passíveis de serem modificadas. Se vê isso na questão de gênero, por exemplo, com toda sua plasticidade: do ponto de partida binário, hoje se reivindica que em relação ao gênero, convém mais o dimmer, com suas várias possibilidades e gradações.
A esse artificialismo, acrescenta-se o espírito pragmático. Como, por exemplo, a exigência de que os diagnósticos sejam pragmáticos. O exemplo maior é a prática dos protocolos. O que o protocolo pretende eliminar? De certo modo, ele visa apagar a implicação subjetiva no juízo e na ação diante do que se apresenta. O juízo é reduzido a uma avaliação sobre a presença ou ausência de sinais ou sintomas. Num caso, ou em outro, toma-se uma direção ou outra, e assim sucessivamente. Você não necessita tomar decisão quando está ao nível do protocolo, a não ser a de aplicar o protocolo. É como se fosse possível eliminar o risco, a aposta calculada que, como sabemos, são elementos incontornáveis da clínica.
O pragmatismo do DSM não se esgota nas questões do protocolo. Vê-se nitidamente que é um Manual que, de alguma maneira, reflete as tensões sociais que se apresentam no mundo contemporâneo. A título de exemplo, ainda que não tão recente, cabe mencionar o embate entre os grupos trans nos Estados Unidos em torno da construção do DSM-5. Alguns ativistas defendiam que se retirasse a categoria trans das patologias, do mesmo modo como ocorreu com a homossexualidade antes inscrita no campo das patologias. Por outro lado, havia grupos trans que postulavam pela sua manutenção, como modo de assegurar acesso à cobertura de saúde para o caso dos tratamentos e cirurgias que eventualmente fossem feitas. Vemos que o tema é de uma complexidade que extrapola o campo propriamente epistêmico e que atravessa o campo social de uma maneira impressionante. O DSM não é só o fruto de um debate da comunidade científica norte-americana, mas é também fruto dos embates e lutas sociais produzidas a partir do reconhecimento de um artificialismo nos semblantes que atravessam as classes, os gêneros etc.
Voltando a O rouxinol de Lacan e à discussão a respeito da classificação como exercício de correlacionar indivíduo e classe. Em O rouxinol de Keats, Borges recorre a uma citação de Coleridge, ao dizer que “todo mundo nasce ou platônico ou aristotélico”. Nessa partilha, Borges dá a entender que ele se inscreve no campo dos platônicos, ou seja, de que, para ele, o universal da classe está presente no indivíduo.
Em outros termos, para Borges o universal do rouxinol já está, de alguma maneira, presente no indivíduo rouxinol. De alguma forma esse exemplar carrega consigo um universal. Borges assinala que, na perspectiva platônica, o rouxinol do poema de Keats é o mesmo rouxinol que Rute ouviu, que Ovídeo manifestou, que Shakespeare mencionou em suas peças e sonetos, porque ele é uma emanação, ele faz parte do arquétipo rouxinol, que, de alguma forma, se faz presente no indivíduo.
E é justamente aí que Miller faz uma diferenciação. Ele assinala que o universal da classe não está todo presente no indivíduo ou, melhor dizendo, que aquilo do indivíduo que não permite que ele seja reconhecido como exemplar de uma classe é que é o efeito sujeito. O sujeito como o que precisamente faz destoar o indivíduo da classe. Quando se diz um psicótico, não podemos de maneira alguma nos restringir à ideia de que com isso estaríamos assinalando um indivíduo exemplar da classe dos psicóticos. Sabemos, pela nossa experiência, que, antes de mais nada, um psicótico é um sujeito e que, portanto, não se inscreve necessariamente como exemplar de uma classe. É por isso que para nós interessa o um a um, no singular, e não necessariamente a identificação do indivíduo à classe psicose, à classe perversão, à classe neurose. Ainda que o diagnóstico estrutural seja relevante e que nos sirva de orientação, ele não visa estabelecer a correlação indivíduo-espécie ou indivíduo-classe.
Um segundo movimento do texto de Miller é uma discussão sobre a prática do diagnóstico propriamente dita, no nosso campo da psicanálise. Uma pergunta: o que está para ser diagnosticado? Ao acionar a prática do diagnóstico, não nos contentamos com a identificação de um caso a uma classe nosológica. Se por um lado isso tem lugar, se isso orienta, no entanto não é o essencial. A etimologia da palavra diagnóstico, diagnosis, indica a capacidade de discernir os elementos que estão presentes numa determinada situação. Nesse sentido, cabe a pergunta: o que para nós está para ser discernido? O que nós queremos discernir, diagnosticar? E aí não é saber se esse indivíduo pertence à classe a, b ou c, mas saber o que é propriamente o “efeito sujeito” de um indivíduo, o que nele não permite que ele se reduza a exemplar de uma classe. Dito de outro modo, a pergunta que nos orienta é aquela que procura discernir o modo de gozo singular de um sujeito.
No campo da medicina, muitas vezes, o diagnóstico é acompanhado do prognóstico, que são os juízos acerca dos desdobramentos de um quadro clínico. E me parece que em nossa prática também exercitamos um certo prognóstico. Um prognóstico limitado, um certo juízo sobre o que poderá acontecer. Mas cabe frisar que o nosso prognóstico não é um destino. Trata-se do prognóstico como um certo cálculo, que envolve uma aposta e também a consideração pelo impossível de prever. Éric Laurent mencionou, em certa ocasião, que em nosso campo o prognóstico se faz a posteriori. Ou seja, de um interesse em examinar os sinais que previamente poderiam indicar os rumos tomados pelo caso, que levaram o caso a ir numa certa direção.
Ainda com relação à prática do diagnóstico, Miller aproxima a prática do diagnóstico na psicanálise de uma arte, e não derivando da aplicação de uma sequência de alternativas excludentes, como se faz ao nível dos protocolos. Considerar o diagnóstico como arte também se distingue da pura e simples aplicação de uma teoria a um caso. Apesar de não citar explicitamente, suponho que, com a aproximação da prática diagnóstica a uma arte, Miller esteja evocando a terceira crítica de Kant, A crítica da faculdade de julgar, onde o filósofo elabora o juízo estético. Quando, por exemplo, se julga uma obra de arte como bela, não recorremos antes ao conceito de belo para saber se aquela obra preenche todos os critérios para assim ser designada. Ou seja, o juízo do belo não é a aplicação de uma teoria ou de um conceito sobre uma obra. É um juízo que se produz sem lançar mão de uma regra. Ele discrimina os elementos da obra que produzem um efeito estético, mas estes não têm valor universal. Neste ponto o diagnóstico se aproxima do juízo estético tal como Kant propõe. Ou seja, descobrir os princípios de um caso no próprio caso e não necessariamente procurar referir os elementos do caso a um princípio prévio ou exterior, como o de uma classe ou de um conceito. Aquilo que vai nos orientar em relação ao caso é aquilo que o caso vai produzindo a partir dele próprio, que servirão como elementos de referência.
Ainda no mesmo texto, Miller faz referência ao matema S de A barrado S (Ⱥ), destacando a ideia de que o S de A barrado S (Ⱥ), indica que há um furo no universo das regras e das classes. Trata-se de um significante que assinala a existência de um furo quando se pensa que o Outro é um todo, ou que o Outro é um universal, ou que o Outro é uma classe completa. Trata-se justamente do significante que demonstra, nesse caso, a inconsistência de um universal. E é justamente sobre esse ponto que se dá a invenção analisante. Ou seja, é aí que um analisante inventa as suas regras ou o seu modo de relação, por exemplo, com o sexual, sobretudo quando estamos diante de um “universal negativo”. Ou seja, a não relação sexual. No momento em que se tenta encontrar um programa do que seria a relação sexual ou de fazer disso um universal, deparamos com um furo em relação a isso. E é justo a partir desse lugar que um analisante pode inventar algo a partir do seu sintoma como resposta à ausência de relação.
Se consideramos que aquilo que interessa é o que, no caso, faz obstáculo a sua redução a um exemplar, podemos nos perguntar sobre o que consideramos ser um caso clínico. Nesse sentido, cabe retomar a conclusão do PIPOL 56, proferida por Miller, na qual chama a atenção para um aspecto que de certo modo se faz presente em O rouxinol de Lacan: em psicanálise, o caso clínico como totalmente objetivável, isso não existe. Por mais que se faça um esforço de objetivação, e isso tem um certo lugar, é necessário, no entanto. também levar em conta o que nele é impossível objetivar. Para a ciência, do ponto de vista epistêmico, o caso deve ser considerado como um “objeto”, de modo que o cientista não se confunda com o objeto da sua investigação. Em outras palavras, que entre o cientista e o objeto não haja interferência advinda das idiossincrasias, dos preconceitos ou dos juízos prévios do investigador. O caso clínico pensado dessa maneira, do ponto de vista da psicanálise, é impossível. De toda forma isso que chamamos de caso clínico é uma ficção, porque, de alguma maneira, o analista está implicado naquilo que ele está apresentando.
Miller aproxima a estrutura do caso clínico em psicanálise da estrutura do quadro Las Meninas, de Velázquez. Quando apresento um caso, ou um quadro, eu mesmo estou aqui em um determinado lugar do quadro, como Velázquez pinta a si mesmo pintando esse quadro. E para que se tenha uma apreensão do quadro clínico, é necessário que eu me dê conta, na medida do possível, do modo como estou incluído no quadro. Isso repercute também ao nível da supervisão: como localizar essa presença do analista no caso clínico que ele está apresentando, e como ela interfere na visão do quadro?
A conversação dos analistas
Outro aspecto a considerar diz respeito à relação entre as categorias clínicas da psicanálise e a prática da conversação. Nesse sentido, é interessante recuperar o modo como surgiu a categoria de “psicose ordinária”, proposta por Jacques-Alain Miller a partir de uma sequência de conversações clínicas no âmbito do Campo Freudiano.
Antes de tudo, evoca-se aqui a distinção entre categoria e dimensão, tal como me referi anteriormente. A categoria apoiando-se sobre uma descontinuidade entre o presente e o ausente, entre o sim e o não, e a noção de dimensão fazendo referência a uma gradação, a um certo continuum. Em termos clínicos, isso se traduz em termos de um contraste entre uma clínica da descontinuidade – ou bem a, ou então b – e uma clínica, vamos dizer, borromeana, em que as variações podem se apresentar sobre um fundo de continuidade, como por exemplo através das variadas formas que um mesmo nó pode adquirir sem perder sua amarração borromeana.
Podemos dizer que a “psicose ordinária” está à altura da subjetividade da época, ao se apresentar ao nível das dimensões, mais do que na perspectiva das categorias. Se acompanharmos, por exemplo, o modo como o autismo é caracterizado no DSM-5, como um “transtorno de espectro”, tem-se a noção de um leque, de uma gradação, que inclui, por exemplo, o autismo de alta performance, a síndrome de Asperger e outras demarcações.
As psicoses ordinárias se estabeleceram como referência clínica a partir de 1998, por meio de uma série de conversações entre psicanalistas do Campo Freudiano. Desde o início, Miller propôs a organização destas conversações em três tempos, de modo a favorecer uma lógica de precipitação. A série se inicia em 1996, sob a forma de um conciliábulo – cuja produção foi publicada sob o título de O conciliábulo de Anger7 – seguida de uma conversação – publicada como A conversação de Arcachon8 – para finalizar na forma de uma convenção, cujos resultados foram publicados sob o título A psicose ordinária – a convenção de Antibes9. Um estilo “oulipiano” marca a série: todos os eventos sob o regime de encontros iniciados com a letra C, cada um deles realizando-se em cidades da França começando com a letra A.
O Conciliábulo de Anger teve como tema os “Efeitos de surpresa nas psicoses”. A atenção recai sobre o que, nessa clínica, tem surpreendido, como o que, na experiência, se apresenta fora do esperado, como o que diverge do que se sabia ou se imaginava do que havia sido acumulado antes. A conversação se faz ancorada em casos previamente escritos, que são lidos e discutidos. A partir daí, começa a conversação. Os textos servem como uma ancoragem, como orientação para se criar um ambiente de trabalho. Estou me referindo à metodologia porque creio que ela é determinante. Um método que procura, num primeiro movimento, registrar e recensear os efeitos de surpresa na clínica das psicoses, procurando assinalar o estado de nossas questões.
Propõe-se, assim, destacar o que é a surpresa diante daquilo que para nós é clássico, ou que é rotina, ou que julgávamos já estabelecido. Sabemos que a surpresa, para que ela possa ser reconhecida enquanto tal, é preciso, antes, a rotina, que permite reconhecer aquilo que lhe escapa.
No ano seguinte, deu-se a Conversação de Arcachon, sob o título “Casos raros, os inclassificáveis na clínica”. Do efeito surpresa aos inclassificáveis. A conversação permite verificar que aquilo que se chamava de casos raros na clínica não são assim tão raros. Desta vez a metodologia foi um pouco diferente: tem-se os casos escritos, seguido de uma discussão livre a partir deles. Não havia um programa detalhado, os temas iam surgindo a partir das discussões dos casos, ou seja, uma preparação prévia, minuciosa, como condição para que haja lugar para o acontecimento imprevisto. E a pergunta que conclui a Conversação de Arcachon, em que ainda não havia sido proposta a noção de psicose ordinária, é: existiria uma categoria para as nossas surpresas? Seria possível identificar ou localizar uma categoria para essas nossas surpresas na clínica das psicoses?
E, passo seguinte, a Convenção de Antibes, em 1998, que tem como título retroativo A psicose ordinária. Ou seja, a partir dos relatórios dos Institutos do Campo Freudiano, a discussão toma a forma de uma convenção, que tem um aspecto diferente em relação a uma conversação. A convenção visa produzir um certo acordo. Um acordo no uso dos termos, um acordo no uso dos conceitos, das categorias, da forma como se descrevem, por exemplo, os chamados “neodesencadeamentos”, as “neoconversões” e as “neotransferências”. Diante das condições suficientes para se produzir um acordo, surge a proposta da categoria de psicoses ordinárias para orientar e, de certa maneira, remanejar o nosso campo de apreensão da clínica contemporânea.
Para concluir. A conferência O rouxinol de Lacan é proferida dois meses após esse movimento. Ainda que Miller não tenha feito, nessa conferência, referência direta a esses três tempos do conciliábulo, da conversação e da convenção, percebe-se que essa conferência serve como um point de capiton, como momento de concluir todo esse percurso que culminou na formulação das psicoses ordinárias. Uma evocação dessa presença pode ser inferida no segundo parágrafo de O rouxinol de Lacan, o que o leva a dizer que "(...) como nas ciências duras, para nós na psicanálise trata-se de organizar lugares onde seja possível produzir encontros, onde se cruzem ideias e pessoas, que permitam manifestar-se ao acaso. Isso é tão importante como tudo que pertence ao campo do sistemático."
De alguma maneira, o texto O rouxinol de Lacan tem seu valor não apenas pelo que ali se formula, mas também por assinalar a importância das condições que permitiram construir as teses ali expostas, condições essas indissociáveis de uma conversação contínua dos analistas.
1. Aula inaugural proferida no ICPOL-SC em 06 de março de 2021.